A Apple e a obsolescência “desprogramada”
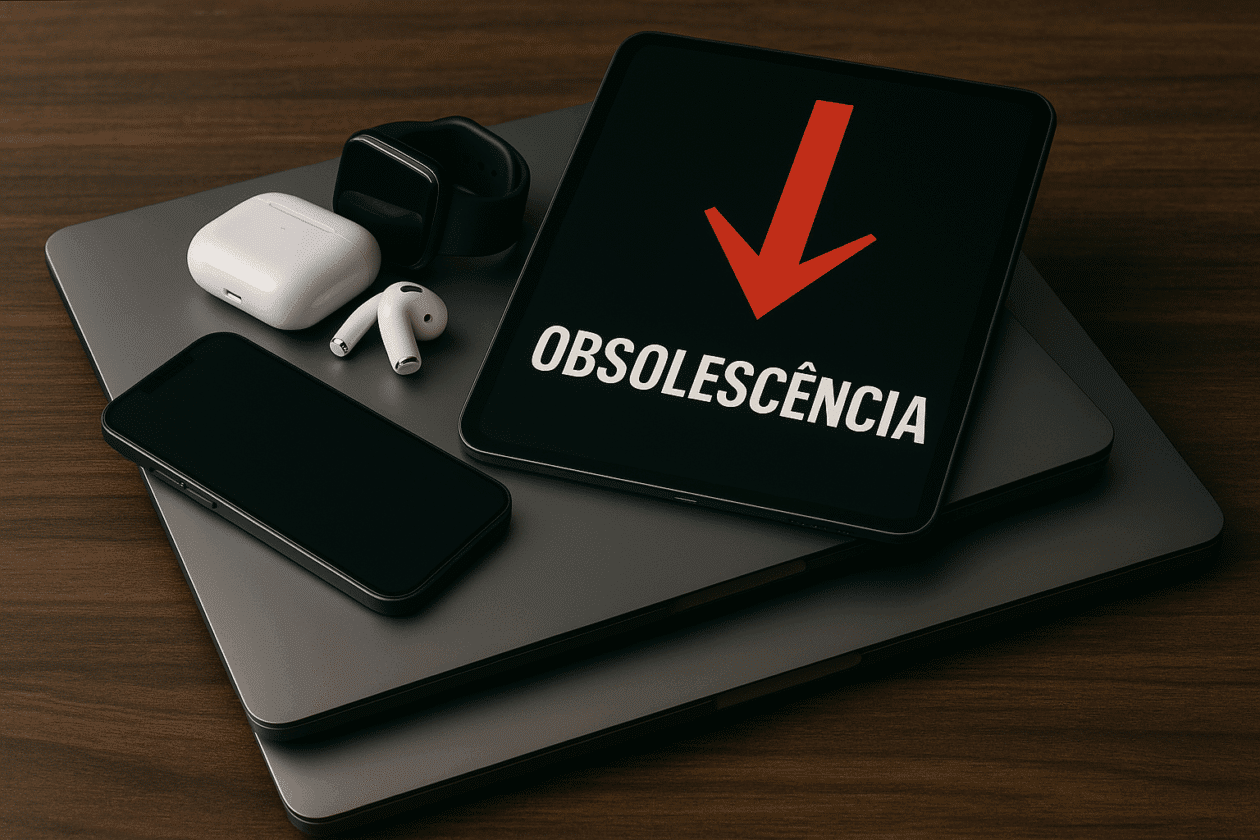
A Apple já foi sinônimo de disrupção. Seus lançamentos definiam rumos para toda a indústria, e a expectativa por cada nova geração de produtos era quase um evento cultural. Hoje, porém, uma inquietação silenciosa cresce entre seus usuários mais atentos: a inovação desacelerou, e, com ela, o desejo de trocar também. Os novos dispositivos parecem somente variações incrementais dos anteriores, e a sensação de que “vale a pena atualizar” vem sendo substituída por uma percepção incômoda de estagnação.
Mas esse fenômeno não pode ser explicado apenas por marketing ou nostalgia. O que está em jogo é algo mais profundo, que resgata um conceito clássico: a obsolescência programada.
Neste artigo, quero lhe conduzir em uma releitura desse conceito a partir da trajetória recente da Apple: uma transição da obsolescência deliberadamente induzida para o que poderíamos chamar de obsolescência “desprogramada”, propondo esse neologismo para traduzir um esvaziamento simbólico da inovação que, sem querer, torna os produtos antigos bons o suficiente — não por excelência, mas por falta de concorrência interna real.
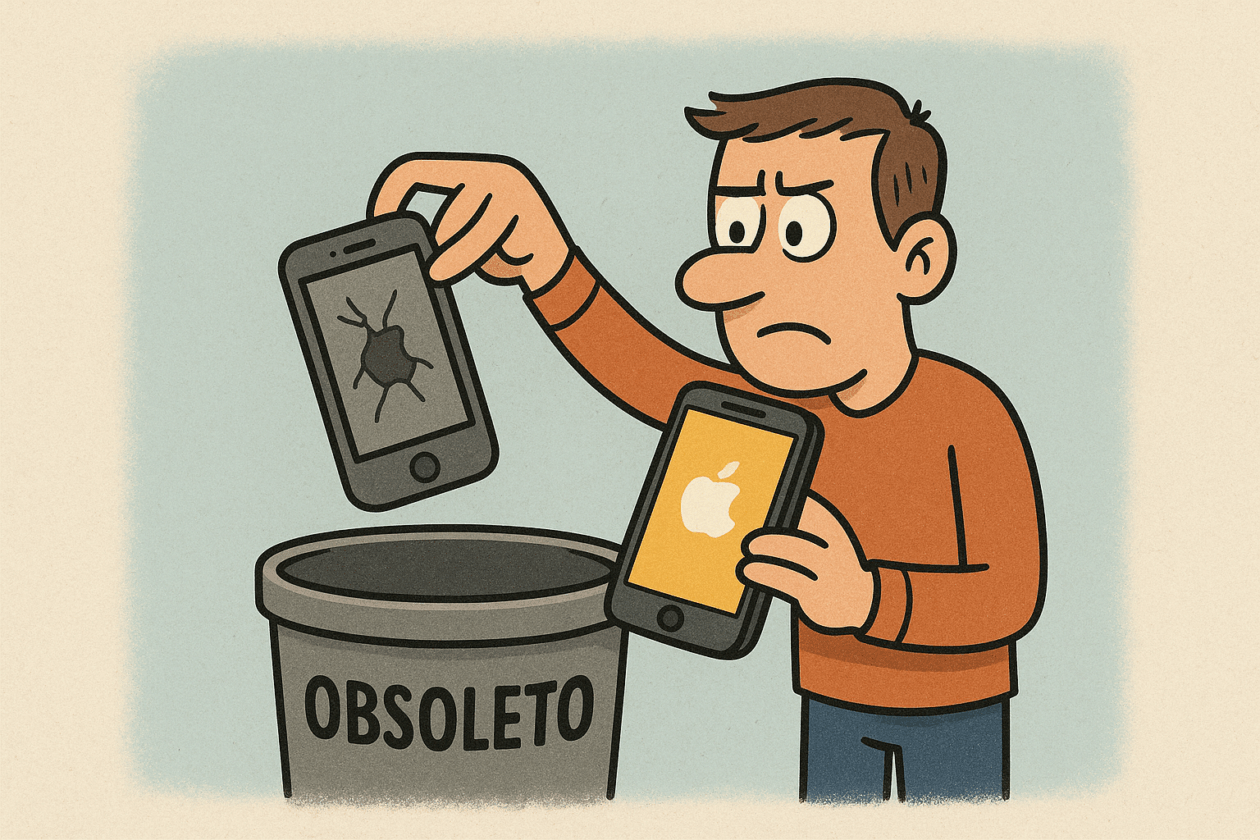
Obsolescência programada: origem e desenvolvimento
O termo “obsolescência programada” nasceu no contexto da indústria moderna como uma resposta (controversa, é verdade) ao desafio de manter o consumo ativo em uma economia industrial em crescimento. Quem primeiro propôs formalmente o conceito de obsolescência programada como estratégia de mercado foi o economista Bernard London, em um panfleto publicado em 1932.
Em plena Grande Depressão, ele sugeria que o governo impusesse um tempo limite para o uso de produtos manufaturados, obrigando os consumidores a substituí-los periodicamente, como forma de estimular a produção e, assim, reaquecer a economia. O projeto não foi implementado, mas a semente estava plantada.
Mais tarde, em 1950, o designer americano Brooks Stevens popularizou a ideia de colocar sutil e lentamente no comprador o desejo de algo um pouco mais novo, um pouco melhor, um pouco antes do necessário. Não se tratava apenas de encurtar o ciclo de vida dos produtos, mas de fomentar uma cultura na qual o “novo” se tornava quase uma obrigação, não uma escolha.
As aplicações iniciais do conceito se concentraram em produtos como automóveis, eletrodomésticos e lâmpadas. Um dos casos mais emblemáticos é o do “cartel da lâmpada” (Phoebus cartel), no qual grandes fabricantes do início do século XX combinaram de reduzir a durabilidade das lâmpadas incandescentes para cerca de 1.000 horas, bem abaixo do que a tecnologia já era capaz de oferecer à época. Essa decisão, puramente estratégica, marcou um dos primeiros usos coordenados da obsolescência programada como tática deliberada.
Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, trabalhou esse conceito de forma, vamos dizer, mais “honesta”. Em seu livro “Desafios Gerenciais do Século XXI”, publicado em 1999, o autor procurou fugir de uma abordagem da obsolescência relacionada a um conceito de produto e marketing. Em vez de defender a estratégia de praticamente manipular o consumidor ao reduzir deliberadamente a vida útil de produtos, incluindo a necessidade de atualização contínua do capital humano, Drucker enfatizou que, num mundo em constante mudança, tanto organizações quanto indivíduos devem se reinventar continuamente para permanecerem competitivos e eficazes.
Nessa abordagem ampliada, aplicada ao conhecimento, a obsolescência deixa de ser apenas um mecanismo de limitação funcional de produtos e passa a representar uma exigência estratégica: cabe às empresas evoluir continuamente em conhecimento e tecnologia, de modo que seus próprios produtos se tornem os substitutos naturais da geração anterior — e não os produtos dos concorrentes.
Na mesma época, Clayton Christensen (esse conhecido como o pai da inovação) em seu bestseller mundial “O Dilema da Inovação” (considerado por muitos a bíblia da inovação), também traz a ideia de que as próprias inovações de uma empresa podem tornar seus produtos obsoletos, mostrando que não inovar pode ser ainda mais fatal.
Embora não utilize o termo “obsolescência programada”, Christensen afirma que o maior risco das empresas bem-sucedidas não é falhar por falta de competência, mas por serem fiéis demais aos seus próprios sucessos. Ao se concentrarem em aperfeiçoar os produtos que já dominam o mercado, essas organizações acabam ignorando ou subestimando inovações disruptivas (termo cunhado por esse autor) que, em um primeiro momento, parecem inferiores, mas que amadurecem rapidamente e tomam o seu lugar.
Essa lógica cria um paradoxo: para sobreviver, uma empresa precisa estar disposta a tornar os seus próprios produtos obsoletos, mesmo que ainda estejam funcionando bem e sendo lucrativos. Em outras palavras, o verdadeiro dilema não é sobre inovar ou não inovar, e sim entre manter o que funciona ou apostar no que ainda parece incerto, mas pode ser o futuro.
A obsolescência na explosão digital e tecnológica
O conceito ampliado de obsolescência aplicado à lógica da reinvenção constante tornou-se um dos pilares invisíveis da explosão tecnológica e digital das últimas quatro décadas. A partir dos anos 1980, com o avanço da microinformática, e depois nos anos 1990 e 2000, com a internet e a mobilidade digital, empresas que prosperaram foram justamente aquelas capazes de assumir que o “melhor de hoje” já nascia com prazo de validade. Nesse novo cenário, a obsolescência deixou de ser uma falha ou estratégia pontual e passou a ser estruturante: produtos, modelos de negócio e até competências humanas precisavam ser constantemente revisados, atualizados ou substituídos.
O ritmo das disrupções, impulsionado por ciclos de inovação cada vez mais curtos, transformou esse movimento em uma espécie de motor da economia digital. Grandes players como Apple, Google, Amazon e Microsoft entenderam rapidamente que a capacidade de se tornar obsoleto intencionalmente, antes que o mercado o fizesse, seria uma vantagem competitiva fundamental. Nesse sentido, a obsolescência programada deixou de ser apenas uma acusação ética sobre o consumo para se tornar um imperativo estratégico sobre a sobrevivência.
A Apple e seus dilemas éticos na obsolescência programada
Chegamos à Apple. A empresa, que historicamente sempre se posicionou como referência em inovação e longevidade dos seus produtos, passou a ser questionada em diversos países por práticas que muitos classificam como formas contemporâneas de obsolescência programada mal intencionada.
Um dos episódios mais conhecidos foi o chamado #batterygate, em que a Apple foi acusada (e multada) por reduzir intencionalmente o desempenho de iPhones com baterias degradadas, sem comunicar claramente aos usuários. A justificativa oficial era técnica: preservar a estabilidade do sistema. Mas a falta de transparência gerou críticas severas e forçou a Apple a mudar políticas, oferecer descontos em substituição de baterias e criar novas opções no iOS para monitoramento de desempenho.
Para contrapor essas críticas, a Apple tem investido de forma crescente em iniciativas de sustentabilidade e economia circular. O programa de trade-in, que oferece crédito na compra de novos dispositivos mediante a devolução dos antigos, é uma maneira de estimular a reutilização responsável e a reciclagem de componentes. Outro avanço relevante é a transparência nos relatórios ambientais, com dados sobre materiais reciclados, reduções na emissão de carbono e uso de energia renovável em suas fábricas.
A empresa também vem se posicionando de forma mais aberta quanto ao chamado Direito ao Reparo, tema sensível que por muitos anos foi evitado. Em 2021, a Apple anunciou o programa Self Service Repair, permitindo que usuários tenham acesso a peças e manuais para realizar reparos em casa. Embora limitado e ainda controverso em termos de viabilidade prática, o movimento é simbólico: representa um reconhecimento de que a longevidade dos dispositivos vai além das atualizações de software.
Sucesso e frustração
Mas é no tema inovação de mercado que a Apple tem apanhado mais. Se no passado ela era celebrada por inaugurar novas categorias de produto, como iPod, iPhone, iPad e Apple Watch — e por entregar saltos perceptíveis de geração em geração —, hoje uma parcela crescente dos seus clientes vive uma espécie de obsolescência ao avesso: não a sensação de que seus dispositivos ficaram para trás, mas de que nada novo realmente relevante os está puxando para frente.
Essa percepção tem alimentado uma frustração silenciosa: a de que a Apple se tornou conservadora em sua abordagem inovadora. Ano após ano, os lançamentos parecem cada vez mais incrementais, previsíveis e até repetitivos. Um novo chip, uma câmera ligeiramente melhor, uma mudança estética aqui ou ali… e nada mais. Para usuários atentos, que já operam num nível alto de maturidade tecnológica, as promessas de inovação deixaram de ser emocionantes e passaram a ser apenas funcionais.
Esse fenômeno afeta diretamente a lógica da obsolescência percebida, que sempre foi um pilar invisível do ecossistema Apple. Quando o novo iPhone deixava o anterior “parecendo velho”, havia um impulso natural à troca — nem sempre racional, mas emocionalmente legítimo. Hoje, a falta de diferenciação tangível entre gerações sucessivas cria um paradoxo desconfortável: o dispositivo ainda funciona bem, mas também não há motivação real para trocá-lo. Resultado? O ciclo de desejo é interrompido e, com ele, parte da magia que sempre envolveu a marca.
A Apple ainda é admirada por seu ecossistema coeso, design refinado e estabilidade, mas já não dita o ritmo da inovação como antes. Isso não é apenas um problema de marketing, mas um reflexo de algo mais profundo: a ausência de saltos imaginativos que criem novas necessidades, não apenas versões melhores das antigas.
A ironia é que, ao escapar da obsolescência programada tradicional, a Apple pode ter escorregado em outro extremo: a obsolescência do desejo ou a perda daquela urgência simbólica que sempre moveu seus usuários mais fiéis. O resultado é uma forma curiosa de obsolescência: não induzida pela limitação técnica, mas pela ausência de provocação criativa. Uma obsolescência, enfim, “desprogramada” e menos impactante, gerando justamente o que sempre evitou: clientes satisfeitos com seus aparelhos por mais tempo — não por lealdade, mas sim por inércia.
Conclusão: o futuro está no equilíbrio
Discutir obsolescência programada, especialmente no universo Apple, envolve uma reflexão sobre a fronteira entre estratégia de negócios, inovação tecnológica e responsabilidade com o consumidor. E talvez, mais do que buscar culpados ou inocentes, seja hora de amadurecermos essa conversa — e de nos perguntarmos, como consumidores, até que ponto somos parte do problema ou da solução.
Ao longo das décadas, a obsolescência programada foi alvo de críticas, regulações e até revoltas. Denunciada como símbolo do consumo irresponsável, ela se tornou sinônimo de desperdício, ganância e manipulação. Mas no contexto atual, especialmente no ecossistema da Apple, é possível enxergar um novo desdobramento desse conceito — um que não nasce da intenção de descartar, mas da ausência de inspiração para continuar.
A obsolescência “desprogramada”, como propomos aqui, é mais sutil. Ela não é imposta por chips limitados ou baterias sabotadas, mas por ciclos de inovação que deixaram de emocionar. É o momento em que o produto permanece funcional, mas o encantamento que movia a troca periódica se dissolve. A Apple, que por anos foi o símbolo máximo da antecipação do futuro, agora parece estar presa à manutenção do presente.
Isso não significa que a marca tenha perdido a sua relevância — longe disso. Sua engenharia continua admirável, seu ecossistema segue robusto e sua visão de privacidade, exemplar. Mas algo mudou no terreno da imaginação. A expectativa que os usuários cultivavam a cada apresentação (keynote) foi cedendo espaço à previsibilidade, e o desejo de pertencimento ao “próximo grande salto” deu lugar a uma espécie de conformismo funcional.
Ao escapar da obsolescência programada tradicional, a Apple talvez tenha escorregado num risco ainda mais perigoso: o de se tornar obsoleta na sua promessa de reinvenção. E nesse cenário, a pergunta que se impõe não é apenas técnica ou mercadológica, mas simbólica: quando foi a última vez que um lançamento da Apple lhe surpreendeu de verdade?
Talvez o desafio do futuro não seja mais prolongar a vida útil dos dispositivos — mas reencantar a vida útil do desejo.


